
Primeira soberana
britânica da história a atingir o marco das sete décadas de reinado, Isabel II
teve um papel fundamental na história do último século. A monarca morreu esta
quinta-feira, aos 96 anos. O Expresso recupera, numa versão editada, este texto publicado
originalmente na Revista E de 14 de janeiro de 2022
Num
célebre ensaio de 1957, “The King’s Two Bodies”, o medievalista Ernst
Kantorowicz analisou a doutrina dos dois corpos do rei, nos termos da qual os
monarcas têm um corpo físico, sujeito aos acidentes da natureza e às
contingências da fortuna, e um corpo político, intangível e eterno, alheio às
vicissitudes da vida terrena, em que a idade adulta sucede à infância,
seguindo-se o envelhecimento e a morte. Trata-se de uma emanação da teologia do
Corpo de Cristo e, por isso, não é ao acaso que, nos mosaicos bizantinos da
abside da Basílica de San Vitale, em Ravena, consagrada no ano 547, vemos
Justiniano e Teodora com um halo a rodear-lhes as imperiais cabeças, como se
fossem santos ou representantes de Deus, vigários do transcendente.
As princesas Margarida e Isabel, as irmãs reais, em crianças, na década de 30 (Culture Club/Getty Images)
O corpo de Isabel Alexandra Maria, princesa de Iorque, nasceu de cesariana no nº 17 de Bruton Street, em Mayfair, Londres, numa casa que, sintomaticamente, foi destruída na Segunda Guerra e, também sintomaticamente, é hoje repartida entre um restaurante chinês e um stand de automóveis. Fez 96 anos de existência terrena no passado 21 de Abril, mas, devido à sua dualidade corpórea, os respectivos aniversários biológico e oficial não coincidem, já que este último, como o de todos os monarcas britânicos desde Jorge II, é assinalado em finais de Maio ou princípios de Junho, em datas variáveis nas diferentes paragens da Commonwealth (e como mudou o mundo: eram nove quando subiu ao trono, são agora 54). Ao contrário do pai e da irmã, a rainha nunca fumou e bebe com muito mais moderação do que a mãe, cuja morte aos 101 anos talvez indicie que, no plano sanitário, se encontra favorecida pela genética materna (melhor do que a paterna: Jorge VI morreu com 56 anos), o que não impede que desde há muito houvesse especulações várias em torno do seu estado de saúde (…), percalços mais do que naturais e expectáveis num corpo quase centenário, mais idoso do que 90% dos seus súbditos, dos quais cerca de 80% já nasceram tendo Isabel por monarca.

Começou
a reinar há 70 anos, em 6 de Fevereiro de 1952, ainda que, devido ao luto pela
morte do pai, só haja sido coroada em 2 de Junho de 1953, numa cerimónia para
mais de oito mil convidados com três horas de duração, que custou mais de 43
milhões de libras, a preços de 2019, e que, por insistência do marido (o qual
venceu a oposição de Churchill, então primeiro-ministro), foi transmitida pela
televisão, com uma audiência estimada de 277 milhões de espectadores em todo o
mundo. As câmaras da BBC, porém, seriam desligadas por breves instantes no
momento mais decisivo e solene, quando a rainha, despojada do manto e das
jóias, se sentou na cadeira de Eduardo I, feita no século XIII, e, envergando a
colobium sindonis, uma simples túnica de linho, alvíssima, símbolo de
humildade, foi ungida com os sagrados óleos pelo arcebispo de Cantuária, nas
mãos, no peito e na cabeça, assim se assinalando a natureza espiritual do seu
mandato, como soberana do Reino Unido e chefe da Igreja de Inglaterra. Entre os
correspondentes estrangeiros, uma jovem repórter americana, Jacqueline Bouvier,
a qual por certo não adivinharia que, com o apelido Kennedy, seria coroada em
breve como rainha republicana.
Isabel não nasceu como filha de rei nem
foi educada para ser rainha, ainda que essa possibilidade tenha estado no
horizonte desde o dia em que viu a luz. Foi coroada a 2 de Junho de 1953, numa
cerimónia transmitida pela televisão, com uma audiência estimada de 277 milhões
de espectadores em todo o mundo
Desde então, os dois corpos de Isabel Alexandra, o físico e o político, têm sido chamados ao exercício de três papéis — o real, o conjugal, o maternal —, sendo neste último que o seu desempenho se veio a revelar mais problemático e infeliz, em larga medida porque afetado pelo exercício do primeiro. As desventuras que sofreu com a descendência não terão sido muito diferentes das padecidas por vários outros líderes do mundo, a quem o cumprimento dos deveres públicos rouba disponibilidade e tempo para zelarem pela formação dos filhos. No caso das monarquias, porém, a educação dos príncipes não é uma questão doméstica, mas assunto de Estado, pois que um dia virão a chefiá-lo, o que, no caso de Carlos (ou, se preferirmos, Sua Alteza Real, príncipe Carlos Filipe Artur Jorge, príncipe de Gales, duque de Edimburgo, duque da Cornualha, duque de Rothesay, donde de Merioneth, donde de Carrick, donde de Chester, barão Greenwich, barão de Renfrew, lorde das Ilhas, príncipe e grande-intendente da Escócia, cavaleiro da Mais Nobre Ordem da Jarreteira, cavaleiro-extra da Mais Antiga e Mais Nobre Ordem do Cardo-Selvagem, grão-mestre e primeiro grã-cruz da Mais Honorável Ordem do Banho, membro da Ordem do Mérito, cavaleiro da Ordem da Austrália, companheiro da Ordem de Serviço da Rainha, membro do Mais Honorável Conselho Privado de Sua Majestade e ajudante-de-campo de Sua Majestade), hoje com 73 anos, parece uma hipótese remota, mas não improvável.

Nos
balanços do reinado de Isabel, as falhas no afecto e na formação do primogénito
são o ponto mais controverso, aquele em que até os seus apoiantes hesitam em
saudá-la: ainda hoje se questiona, por exemplo, a opção de interná-lo em
Gordonstoun, na distante Escócia (ao invés de Eton, a dois passos de Windsor),
num colégio fundado por um alemão, famoso pelo seu método de ensino, áspero e
viril, baseado nos desportos ao ar livre. Filipe frequentara-o, adorando a
experiência, Carlos odiá-la-ia, descrevendo-a como “colditz in quilts”, numa
alusão ao castelo nazi, e sempre foi emocionalmente mais próximo do seu
tio-avô, Louis Mountbatten, antigo vice-rei da Índia vitimado em 1979 por uma
bomba do IRA, e sobretudo da sua avó materna, Isabel Bowes-Lyon, que teve papel
preponderante na escolha da jovem virgem, 13 anos mais nova do que ele, com
quem o príncipe de Gales se casou em Julho de 1981, e da qual se separaria em
1992, ao fim de um acidentado matrimónio de 11 anos que talvez possa ser
resumido numa sucessão indumentária: o Vestido de Noiva, nas primícias, de
tafetá de seda e renda antiga cor-de-marfim, com uma cauda de 7,62 metros e um
véu de tule de 140 metros; o ‘vestido Travolta’, da fase áurea, usado numa
recepção na Casa Branca em 1985, na qual a princesa deslumbrou em dueto com o
protagonista de “Saturday Night Fever”; por fim, na derrocada, o ousado
‘vestido da vingança’ (ou “vestido do fuck you”), descrito como um “devastador
chiffon negro”, envergado por Diana num jantar de beneficência em Kensington
Gardens, a 29 de Junho de 1994, no dia seguinte a Carlos ter assumido o
adultério numa entrevista televisiva, arma desde então muito usada pelos
membros da família real para se agredirem mutuamente, como ainda há pouco
sucedeu com os duques de Sussex (um prodígio de idiotia, mau-carácter e
oportunismo), os quais, em colóquio confessional com a popular Oprah Winfrey,
teceram duras críticas aos Windsor, acusando-os de racismo e de lhes terem
cortado as fontes de financiamento, vindo-se a saber mais tarde que não só o
príncipe Carlos lhes havia transferido uma “soma substancial” de vários milhões
de libras, como Harry e Meghan gozam das vultosas heranças de Diana e da
rainha-mãe e, não contentes com isso, fizeram contratos promocionais com a
Netflix e com o Spotify, de montantes não revelados.
UMA INSURREIÇÃO FILATÉLICA
Em Janeiro de 1965, Tony Benn, um histórico parlamentar trabalhista que ocupava o cargo de ministro dos Correios no governo de Harold Wilson, recebeu uma carta de um conhecido artista, David Gentleman, que se queixava de que a efígie da rainha no canto dos selos britânicos impedia que estes tivessem desenhos mais modernos e coerentes, mais ajustados aos novos tempos. Encantado, o ministro pediu ao artista que lhe fizesse alguns esboços de ilustrações sem a cabeça da rainha, e, em Março, apresentou uma seleção à monarca, que lhe disse não ter sentimentos pessoais na matéria. Tony Benn, erroneamente, interpretou tais palavras como um sinal de assentimento à mudança. Porém, o secretário privado da rainha, Michael Adeane, opor-se-ia com veemência ao projeto e a rainha-mãe, que Isabel sempre consultava sobre os novos desenhos de selos e de moedas, foi ainda mais enfática, lembrando à primogénita que ela era a chefe do Estado, merecedora como tal de maior respeito filatélico. Na audiência semanal com o primeiro-ministro, Isabel e Wilson discutiriam a questão dos selos durante mais de uma hora, saldando-se o conflito por uma vitória retumbante da monarca: não só se manteve a cabeça da rainha nos selos britânicos como o ministro dos Correios acabaria por ser substituído, tendo o novo titular da pasta encomendado um novo retrato filatélico, com base num relevo da autoria do escultor Arnold Machin, que se converteria na obra de arte mais representada da História e numa peça essencial da iconografia isabelina. O episódio é bem revelador da importância que os britânicos dedicam a questões que aos continentais poderão parecer caricatas e menores, quiçá risíveis, mas que se afiguram fulcrais para a encenação do poder monárquico, sendo também expressivo da autoridade que a rainha exerce sobre as decisões políticas que lhe digam directamente respeito e do peso que sobre ela têm duas figuras-chave, a rainha-mãe e o secretário privado (Isabel herdou o private secretary de seu pai, o mítico Allan “Tommy” Lascelles, omnipresente na série “The Crown”, e desde então teve mais oito, sendo o actual titular sir Edward Young, um antigo gestor do Barclays e da Granada Television a quem é creditado o sucesso da histórica visita à Irlanda, em 2011, e a aparição da rainha ao lado de James Bond na abertura das Olimpíadas de Londres, no ano seguinte)

No
relacionamento com os sucessivos primeiros-ministros (15 no Reino Unido, com a recente nomeação de Liz Truss, mais de 170 nos vários domínios da Commonwealth),
Isabel tem mantido, sem falhas nem sobressaltos, o padrão que um deles, James
Callaghan, descreveu como “amabilidade sem amizade”, uma espécie de
cordialidade calorosa que nunca se estende a aspetos íntimos, mas que varia — e
muito — consoante a personalidade de cada protagonista. Por inúmeras razões,
históricas e familiares, o mais próximo e mais querido de todos foi, sem margem
para dúvidas, Winston Churchill, mas, pese a sua mundividência conservadora e
até antiquada, a rainha nunca fez distinções ideológicas ou de classe no
relacionamento com os seus primeiros-ministros: pelo que é possível saber-se,
apreciou o convívio de um trabalhista de classe média como Harold Wilson, a
quem autorizou que acendesse o cachimbo e concedeu o raro privilégio de ficar
para uma bebida após a audiência das terças-feiras (“temos de trabalhar muito
com ele”, confessou a um cortesão, após o primeiro encontro), mas enfadou-se
com o servilismo excessivo e a verborreia professoral da senhora demasiado
tempo entre homens”, terá confidenciado a uma aia).
Desconhece-se, como é óbvio, o que a rainha pensará do ‘Brexit’, ainda que por certo a preocupem os efeitos colaterais sobre o destino da Escócia, entre outras calamidades. A tal propósito, deixou tão-só a mensagem essencial, exortando os políticos do país a abandonarem querelas e divisões para se concentrarem no bem-estar do povo
O
radicalismo autoritário da ‘dama-de-ferro’, a crispação que induziu entre as
classes operosas do reino e, sobretudo, o seu desprezo pela Commonwealth, a
menina dos olhos da rainha (na mensagem de Natal de 1972, nas vésperas da
adesão da Grã-Bretanha à CEE, Isabel fez questão de sublinhar que “os novos
vínculos com a Europa não substituirão os que existem com a Commonwealth”),
levaram a monarca a dar um passo ousado: em Julho de 1979, antecipando-se a um
eventual veto governamental, e sem comunicação prévia, o Palácio anunciou que
Isabel iria à conferência dos líderes da Commonwealth, em Lusaca, onde
conseguiu aplacar os ânimos africanos, enfurecidos pela relutância de Londres
em impor sanções ao regime da Rodésia. Mais recentemente, o ex-primeiro ministro Boris Johnson meteu-a numa das maiores e mais humilhantes
embrulhadas constitucionais do seu reinado, com os juízes do Supremo Tribunal a
pronunciarem-se por unanimidade, em Setembro de 2019, pela ilegalidade da
decisão da soberana em suspender o parlamento por cinco semanas. Desconhece-se,
como é óbvio, o que a rainha pensava do ‘Brexit’, ainda que por certo a
preocupem os efeitos colaterais sobre o destino da Escócia, entre outras
calamidades. A tal propósito, deixou tão-só a mensagem essencial, exortando os
políticos do país a abandonarem querelas e divisões para se concentrarem no
bem-estar do povo, o que, parecendo uma banalidade, constitui oportuno aviso em
face da polarização crescente, nos antípodas daquela que, bem ou mal, sempre
foi a sua visão do reino: uma grande família unida e coesa, imbuída de valores
cristãos, próspera porque harmoniosa, ou vice-versa.

O seu longo reinado, metade do século XX e quase um quarto do corrente, bateu recordes de duração (em 2015, destronou a rainha Vitória; em 2017, foi o primeiro monarca britânico a comemorar o jubileu de safira; em fevereiro atingiu a platina; se chegasse a Maio de 2024, ultrapassaria a marca lendária de Luís XIV), facto de que frequentemente se orgulha, gostando de figurar-se como uma sobrevivente a sobressaltos vários, que a obrigaram a decisões de risco, quase todas acertadas. Para o seu casamento com Filipe, da Casa de Glücksburg, em novembro de 1947 (uma ocasião fulcral para elevar o moral da nação em tempos de pós-guerra e de racionamento), as cunhadas não foram sequer convidadas, por estarem casadas com príncipes alemães que apoiaram Hitler, um dos quais ainda em processo de desnazificação. Seria o marido a dar-lhe a notícia da morte do pai, em Fevereiro de 1952, quando se encontravam em viagem pelo Quénia, o que pôs termo às suas aspirações de ter mais uns anos de vida “normal”, como aquela que experienciou nos felizes tempos de Malta, em 1949-1951, quando Filipe aí se encontrava colocado em serviço naval. Nos preparativos para a coroação, teve de gerir um grave conflito com o marido e com o tio, lord Mountbatten, tomando o partido de Churchill e da sua avó, a rainha Mary, e acabando por manter a Casa Real com o nome Windsor, ao invés de Mountbatten, como pretendia Filipe, o qual terá desabafado em tom audível que era o único homem do país a quem haviam retirado o direito de transmitir o apelido aos filhos. Pela mesma altura, outra decisão difícil, quando teve de se opor ao plano da irmã para casar com um divorciado, Peter Townsend, o que, segundo se diz, precipitou a instável Margarida numa espiral de loucura e excessos e num matrimónio infeliz com um fotógrafo da moda, tornado à força conde de Snowdon e visconde Linley, do qual se divorciaria em 1978.
Isabel descreveu 1992 como o seu annus horribilis, expressão usada por um jornal anglicano em 1891 para caracterizar o ano em que Pio IX definiu o dogma da infalibilidade papal. Ao anúncio das separações conjugais de três dos seus quatro filhos (André, em Março; Ana, em Abril; Carlos, em Dezembro), juntou-se um gigantesco incêndio no castelo de Windsor, no dia do aniversário do seu casamento; a publicação de uma biografia-bomba de Diana, da autoria de Andrew Morton, apontando o dedo a Camilla Parker-Bowles, então casada com um oficial católico que havia sido namorado da princesa Ana; a revelação de fotografias de Sarah Ferguson a fazer topless em Saint-Tropez, na companhia de um amante fortuito, milionário e texano, que lhe chupava os dedos dos pés; a divulgação, pelos tablóides, de conversas íntimas de Diana de Gales com um amigo chegado, o “Dianagate”. No final desse ano, e numa decisão inédita, o Palácio de Buckingham processou o “The Sun”, obtendo uma indemnização milionária do jornal de Rupert Murdoch, o magnata australiano dos media que os Windsors sempre consideraram a sua némesis, e a quem atribuem um plano diabólico, não de todo infundado, para derrubar a monarquia e substituí-la por uma república. Em contrapartida, pela reconstrução de Windsor, Isabel aceitou passar a pagar IRS, sendo as finanças reais um dos domínios mais obscuros e controversos do seu reinado, até por ignorância de muitos críticos, que desconhecem que as valiosíssimas obras da colecção real, as jóias da coroa ou as residências oficiais como Buckingham e Windsor são detidas como trust, não como propriedade sua. Ainda assim, a rainha era dona de Sandringham House e do castelo de Balmoral, na Escócia, e tem uma fortuna pessoal considerável, estimada em 350 milhões de libras, ocupando, todavia, e ao contrário do que se pensa, uma modesta 372ª posição na lista dos mais ricos do Reino Unido (outro sinal dos tempos: em 1989, estava em nº 1).

Passadas as tormentas de 1992, a crise maior ocorreria depois, em Agosto de 1997, com a morte trágica de Diana de Gales, a “princesa do povo”, epíteto cunhado por um spin doctor de Tony Blair e que calou fundo em muitos corações, mas que não tem a mínima correspondência com a realidade: quando casou com Carlos em 1981, a filha do 8º conde de Spencer era uma jovem tímida de 20 anos, com vagos estudos suíços e um curso de culinária avançada, que vivia num apartamento oferecido pela mãe e que trabalhava como babysitter para uma família americana e como auxiliar num jardim de infância em Pimlico, e cujos interesses não iam muito além da música dos Duran Duran e dos folhetins cor-de-rosa escritos pela mãe da sua madrasta, a inenarrável Barbara Cartland, uma das artífices do “casamento do século”; depois, deixou-se deslumbrar pela fortuna e pelo glamour da realeza e pelo jet set internacional, morrendo nos braços de um playboy, filho de um milionário egípcio com fortuna feita no negócio de armas e a quem sempre foi negada a cidadania britânica. Quando se deu o acidente em Paris, os Windsors encontravam-se de férias em Balmoral e a demora da sua reação à tragédia, entre outras falhas (não pôr a bandeira de Buckingham a meia-haste), provocaram comoção e vivo repúdio entre as massas, que, espicaçadas pela imprensa sensacionalista, sofreram a perda da princesa como se de uma grande figura histórica se tratasse (um turista italiano e um casal de eslovacos, ela professora de liceu de meia-idade, foram severamente agredidos e condenados a pesadas penas por terem furtado 11 ursinhos de peluche da gigantesca pilha de flores e recordações). No final, e com o auxílio de Tony Blair, exemplarmente mostrado no filme “The Queen”, de 2006, com uma interpretação notável de Helen Mirren, a rainha conseguiu dar a voltar por cima e reconquistar o apreço dos súbditos, cuja volatilidade de sentimentos há muito conhece e domina. A par da desorientação inicial, da intenção de proteger os príncipes da voragem mediática e da incapacidade em perceber o pulsar do povo e os sinais dos tempos, o desastroso timing de Isabel pode ter ficado a dever-se também a uma inibição psicológica já patente em ocasiões anteriores, e à qual não tem sido dado o devido realce: em Outubro de 1966, quando o colapso de uma mina de carvão em Aberfan, no País de Gales, matou 116 crianças e 28 adultos, a rainha só visitou o local quando os trabalhos de resgate acabaram, oito dias depois do terrível desastre. Os argumentos aduzidos pelos seus biógrafos — aversão a gestos fáceis e demagógicos, não querer perturbar as ações de socorro — podem ter um fundo de verdade, mas não explicam por inteiro a sua paralisia em cenários de elevada comoção, nos quais é mais difícil gerir o equilíbrio entre proximidade e distância (a chave das monarquias), o seu pudor extremo em expor os sentimentos próprios e em lidar com os alheios, aliada a uma dificuldade no contacto direto com os súbditos, sobretudo em público e em grupo. Desde sempre, e disse-se, a rainha sabia não ter o carisma e o à-vontade pessoal da sua mãe, cuja presença nos escombros do Blitz, bem como a decisão de permanecer em Londres durante a guerra, constituíram um poderoso elemento de legitimação dos Windsor, capaz de, em simultâneo, fazer esquecer o drama da abdicação e as simpatias nazis de Eduardo VIII e de pavimentar a tranquila subida ao trono de uma princesa de 25 anos.
Para
o efeito — e para o indiscutível sucesso do seu reinado —, muito contribuiu
outro facto decisivo, mas nem sempre referido: Isabel não nasceu como filha de
rei nem foi educada para ser rainha, ainda que essa possibilidade tenha estado
no horizonte desde o dia em que viu a luz. A qualidade de herdeira presuntiva e
a circunstância de estar colocada em terceiro lugar na linha de sucessão do seu
avô, Jorge V, trouxeram imposições específicas — o médico do rei teve de obter
a autorização do monarca para provocar o parto, este foi testemunhado por um
membro do governo, o rei teve de aprovar os nomes próprios da bebé –, mas eram
suficientemente remotas para permitir que a sua infância decorresse num
ambiente tranquilo e feliz, longe de preocupações dinásticas, com temporadas de
três meses de Verão na Escócia e a harmonia de “nós os quatro”, como o seu pai
se referia ao inexpugnável clã que, até à abdicação de Eduardo VIII, só tinha
os benefícios da monarquia e quase nenhuns dos seus encargos. Tudo mudaria com
a entrada em cena de uma americana duas vezes divorciada, que odiava a
popularidade da pequena princesa (a quem chamava depreciativamente “Shirley
Temple”), mas que esta trataria com comovente carinho em 1972, aquando do
funeral do tio em Windsor, o que não impediu Wallis Simpson de, num derradeiro
gesto de vingança, deixar todos os seus bens e fortuna à República francesa.
Isabel II serviu no exército em 1945, assistiu à reconstrução e aos sixties, foi monarca da Guerra Fria, viu esfumar-se um império. Foi alvo de dois atentados, de uma invasão do seu quarto, de iconoclastias sem fim, chegando ao final da vida como chefe de uma nação em crise, na amargura do declínio
O sucesso da rainha de platina explica-se, pois, e como sempre, devido a circunstâncias fortuitas — a paz do núcleo familiar de base; a felicidade do casamento com o único homem que conheceu e amou; a longevidade inusitada da rainha-mãe, a sua confidente e conselheira durante décadas — que permitiram minorar agruras várias, nos planos nacional e caseiro, como a existência atormentada da irmã Margarida e os muitos desvarios dos filhos e, agora, de alguns netos.

No momento em que escrevemos, o predileto, o príncipe André, enfrenta sérias acusações de abuso sexual de uma menor, tendo sido desafiado a comprovar em tribunal o seu álibi, uma incapacidade sudatória supostamente contraída durante a Guerra das Malvinas, em 1982.

A SÓS COM DEUS
Dos
milhões de imagens que existem do reinado de Isabel II, poucas há tão
comoventes como uma tirada há pouco, em Abril do ano passado. Na capela de São
Jorge, no castelo de Windsor, vemo-la no funeral do marido, toda vestida de
preto, máscara sanitária incluída, inteiramente só. A rainha encontra-se em
abandono completo, “alone with God”, expressão associada a Thomas More, nas
vésperas de ser executado na Torre de Londres. E, por detrás dos óculos caídos,
os seus “olhos de vidro azul”, como lhes chamou Cecil Beaton, miram-nos
tremelicantes, em quase súplica de desamparo e de perda, como se murmurassem as
palavras de Ricardo II: “You may my glories and my state depose,/ But not my
griefs; still am I king of those.” A tonalidade crepuscular desse retrato pressagia
um fim vizinho, para ela e para o seu reinado (o que, tratando-se dos dois
corpos do rei, é uma mesma e única coisa). Despojada da presença da mãe e de um
marido de sete décadas, pouco confiante na prudentia e nas capacidades do
primogénito para suceder-lhe no ofício, Isabel surge ali velhinha, na solidão
de si mesma, como, aliás, sempre teve de reinar, pese a multidão dos
conselheiros, a pletora dos cortesãos, a vozearia dos media, os humores
variáveis de milhões de súbditos, que, note-se, continuam a venerá-la, com
consistentes taxas de apoio na casa dos 82%, dos quais 60% entendem que tem
realizado um “trabalho muito bom”.
Serviu
no exército em 1945, assistiu à reconstrução e aos sixties, foi monarca da
Guerra Fria, viu esfumar-se um império (dos 400 milhões súbditos de Vitória,
restam hoje 149 milhões). Foi alvo de dois atentados, de uma invasão do seu
quarto, de iconoclastias sem fim, chegando ao final da vida como chefe de uma
nação em crise, na amargura do declínio. Entrou em funções desde o dia em que
veio ao mundo, ou até antes disso, sendo inimaginável, para nós comuns, ter uma
vida como aquela, uma existência inteira, tanto pública como privada,
predeterminada até à morte por um simples facto biológico — o nascimento
completo e com vida —, com total supressão do livre-arbítrio e da autonomia da
vontade. Ao nascer, Isabel teve pela frente uma vida em que não pôde fazer
escolha alguma, não pôde decidir que profissão ou que interesses teria, quem
seriam os seus amigos, a rede de sociabilidades, a cidade onde morar, que
educação daria aos filhos, onde e com quem passaria as férias ou os tempos
livres. Tudo o que iria fazer, em muitas décadas de vida, já estava disposto à
partida: o ritmo de todos os seus dias, as pausas e os descansos, as ocupações próprias
de cada mês e semana, o que iria fazer dentro de dez, 15, 20 anos. Como notou a
sua prima Margaret Rhodes, foi uma existência programada ao milímetro, sem o
mínimo de espontaneidade e de privacidade, observada à lupa 24h/dia por
seguranças e por paparazzi, com uma agenda sufocante de, em média, 341
compromissos oficiais ao ano, tudo agravado por algo de que nem sempre se fala,
mas que todos sentem: devido ao cargo que ocupa, há sempre uma enorme tensão no
modo como as pessoas, sejam quais forem, se relacionam com ela, e vice-versa, o
que reforça a importância do conforto dado pelo círculo familiar mais restrito
de “Lilibet”, o único espaço de descontração que detém — daí o papel fulcral
que tiveram a rainha-mãe e o marido, daí a especial agrura das desavenças de
filhos, noras e netos, e daí, também, a necessidade de uma rotina régia
estabelecida com regularidade implacável, com o Natal passado em Sandringham
(no ano passado cancelado), a Páscoa em Windsor, o Verão na Escócia - onde se
encontrava na hora da morte - e os Invernos dedicados a viagens pela querida
Commonwealth.
Quem
ali nos surge, pois, sentada no banco de uma igreja, é tanto rainha como
escrava, serva de um destino alheio, cativa de uma condição imposta. Em todo o
caso, Isabel de Inglaterra tinha vindo a mostrar-se ciente, pois foi educada
para isso, de que a perenidade da instituição que serve assenta na
transitoriedade da sua pessoa física. Ao morrer, outro irá suceder-lhe, para
envergar uma coroa que também é cruz, e para que nele enfim se cumpram os
insondáveis mistérios do duplo corpo dos reis.
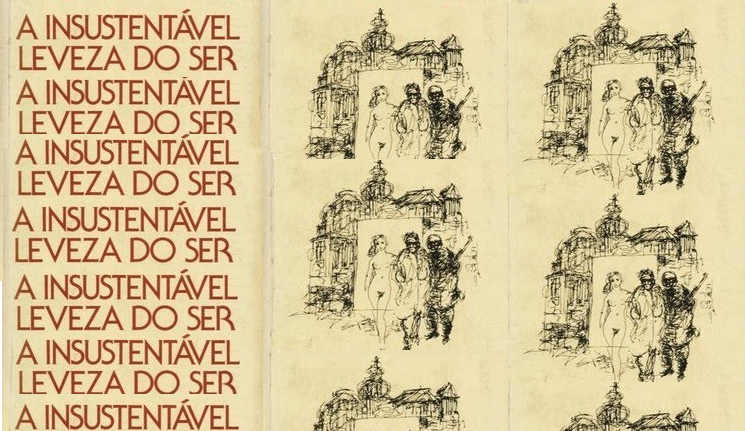

Sem comentários:
Enviar um comentário